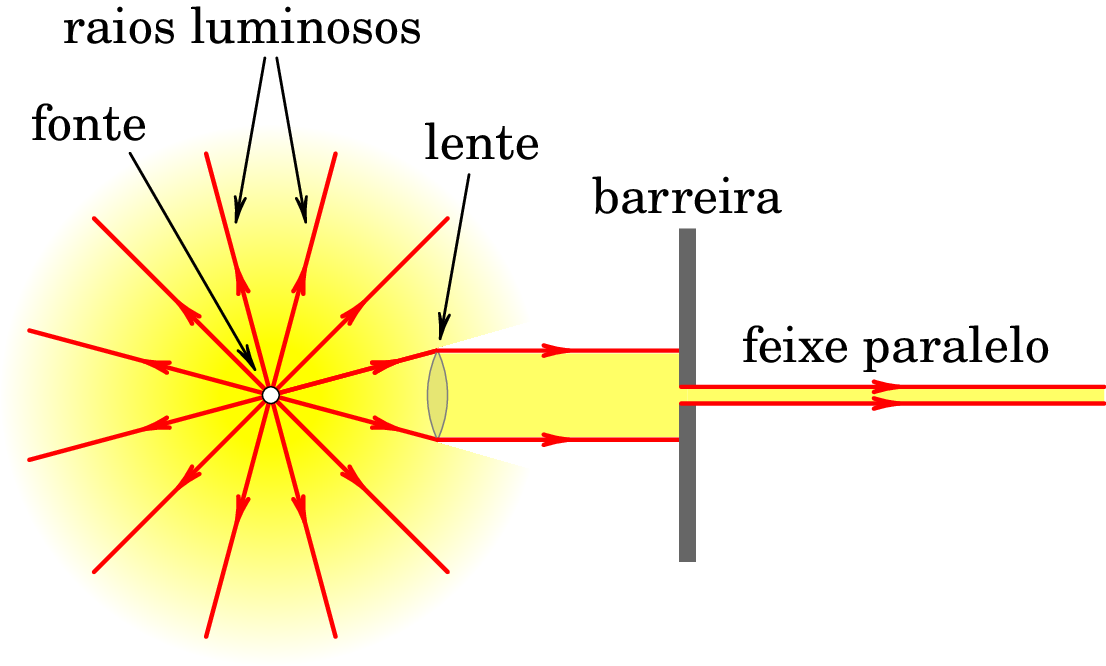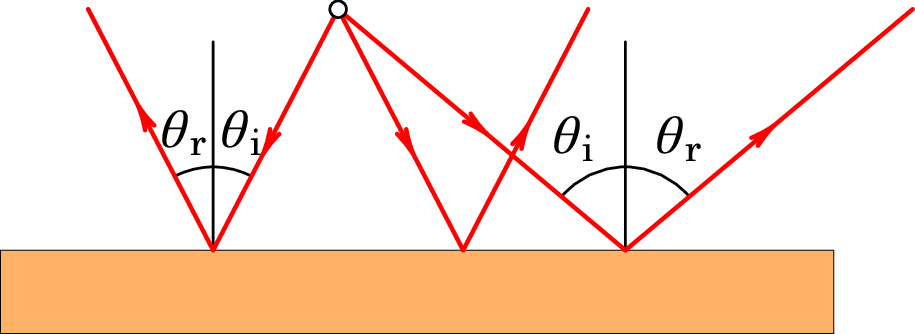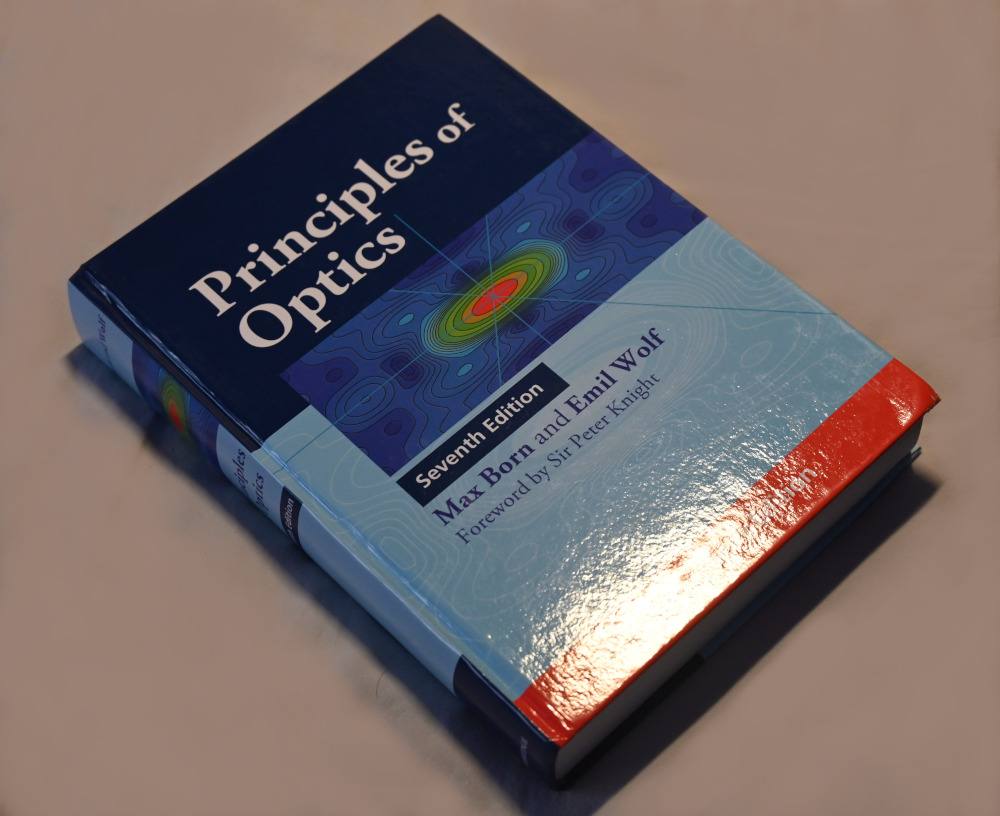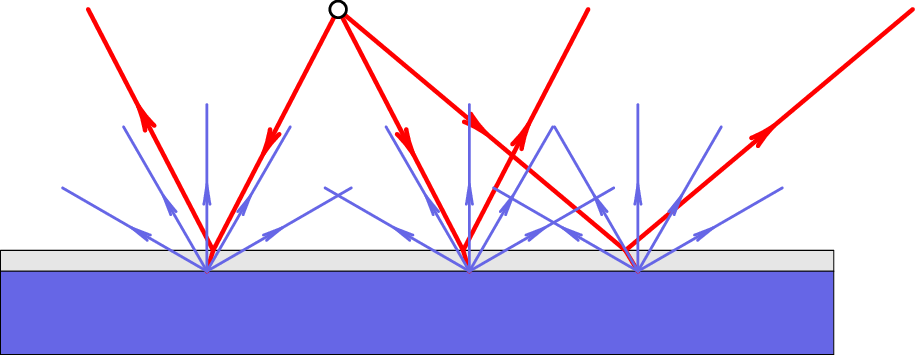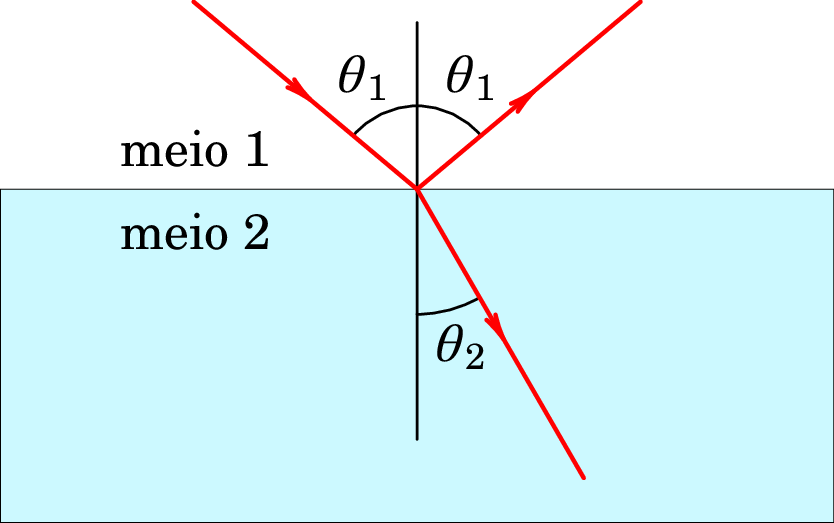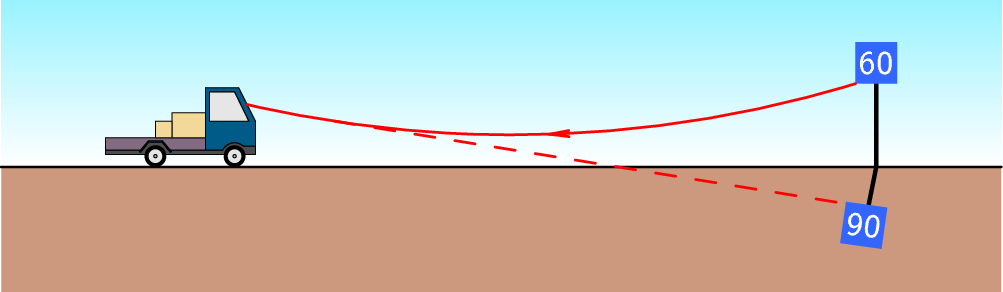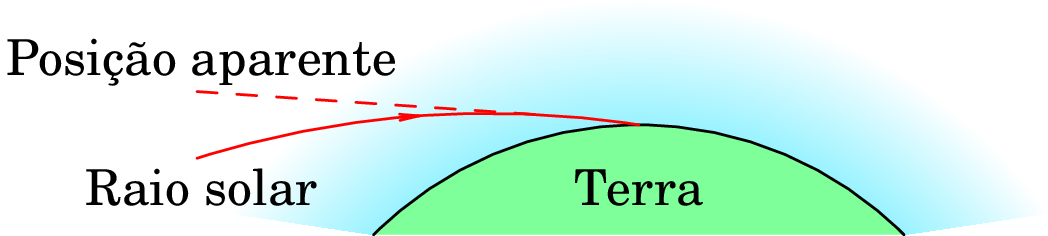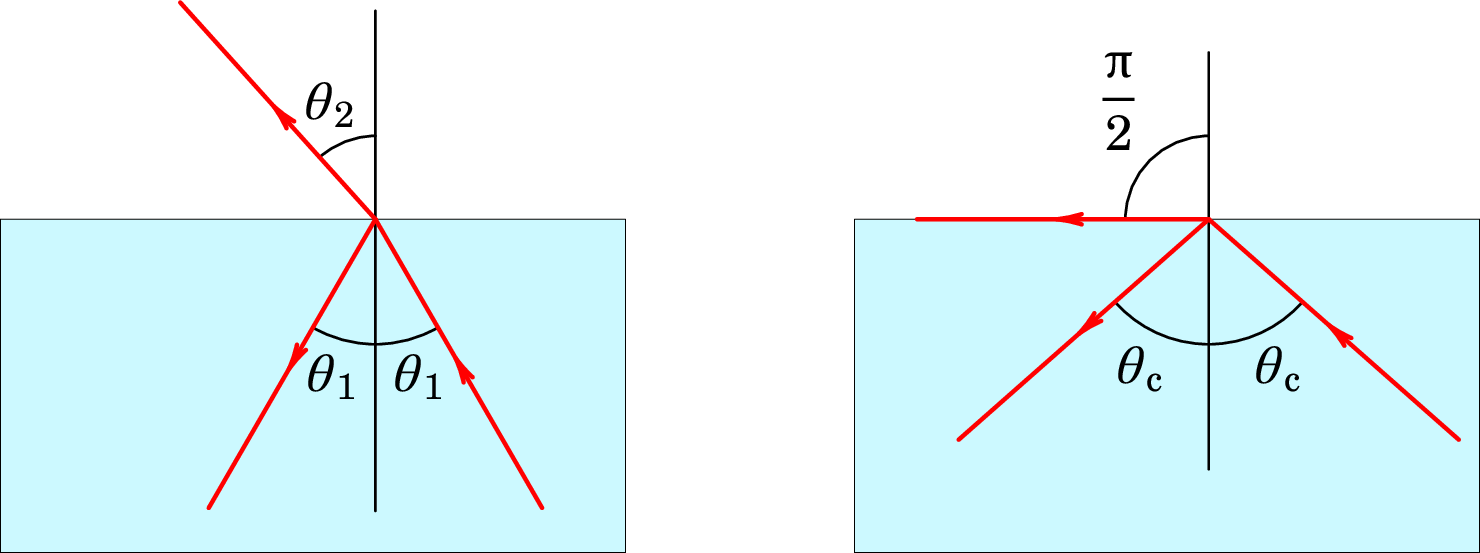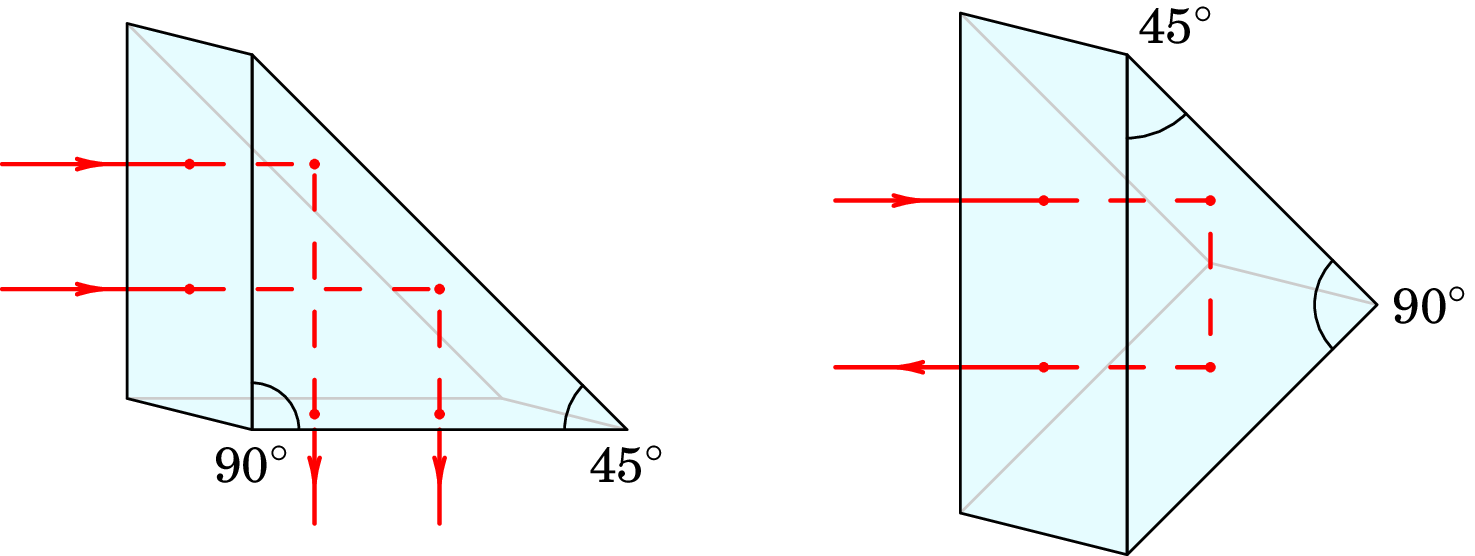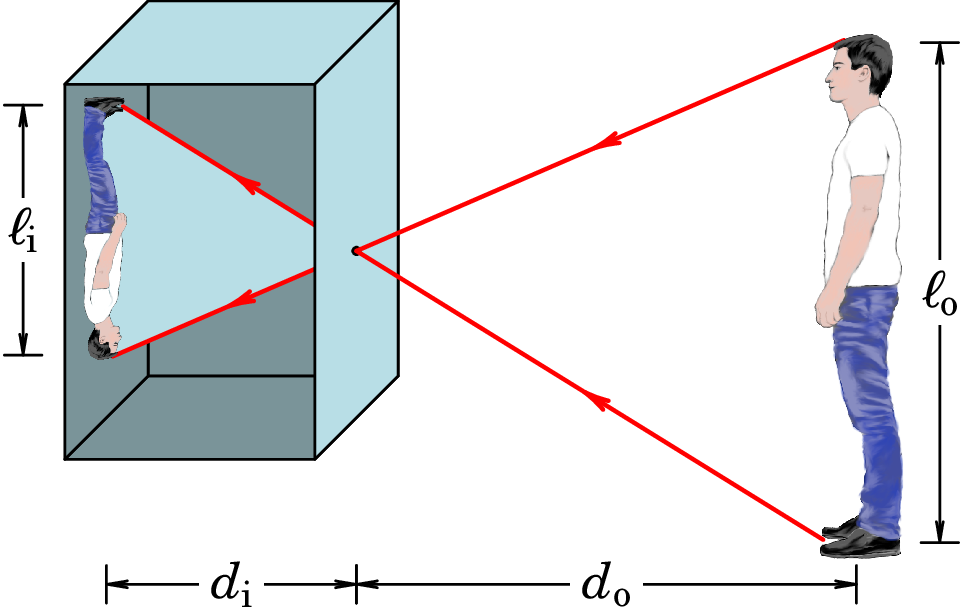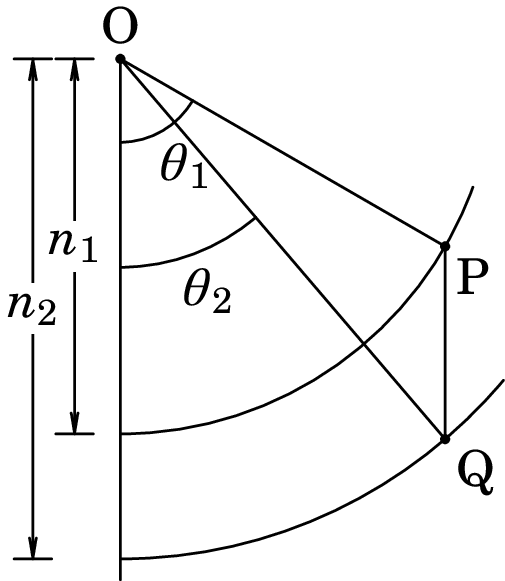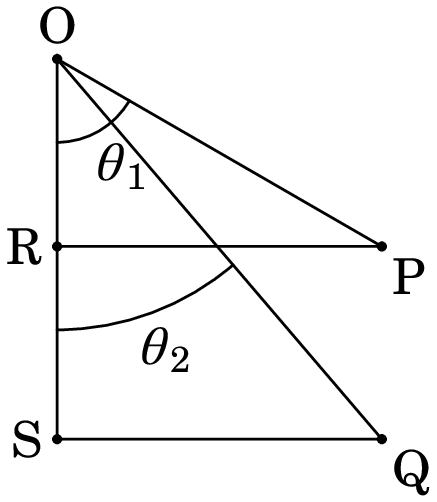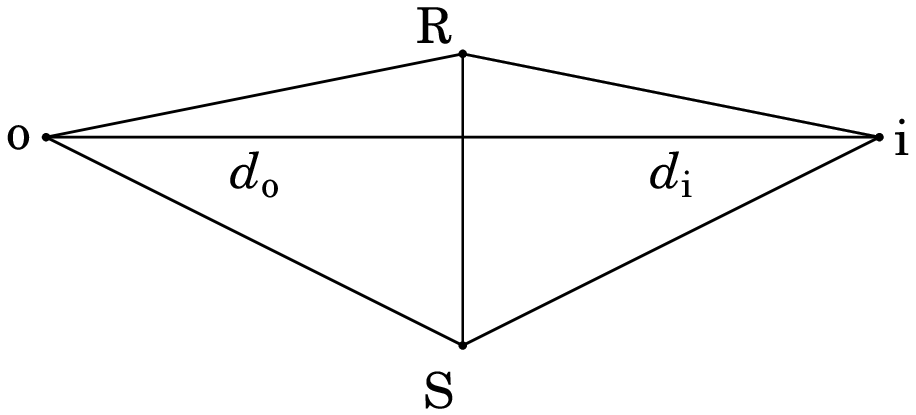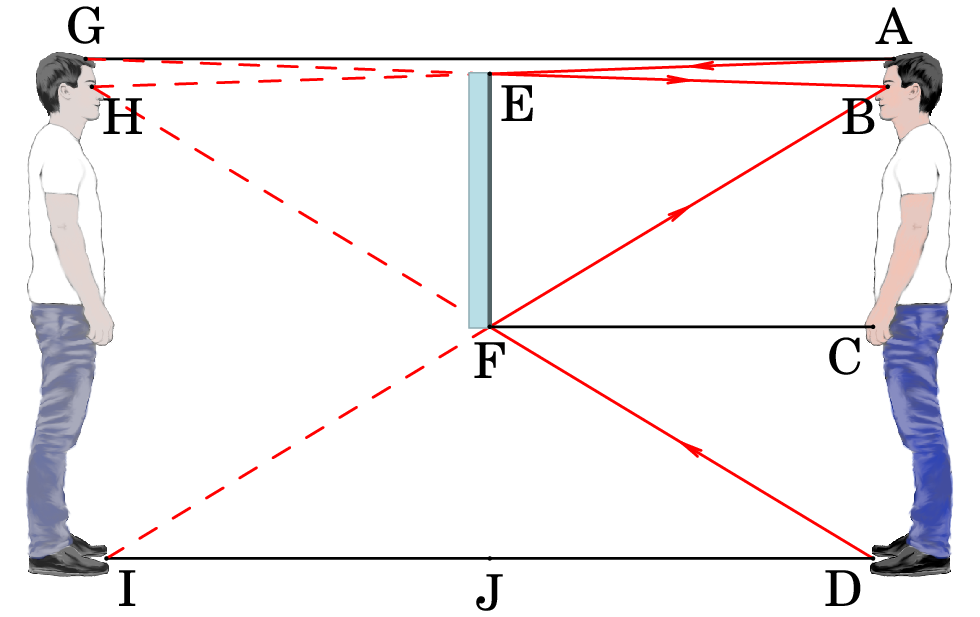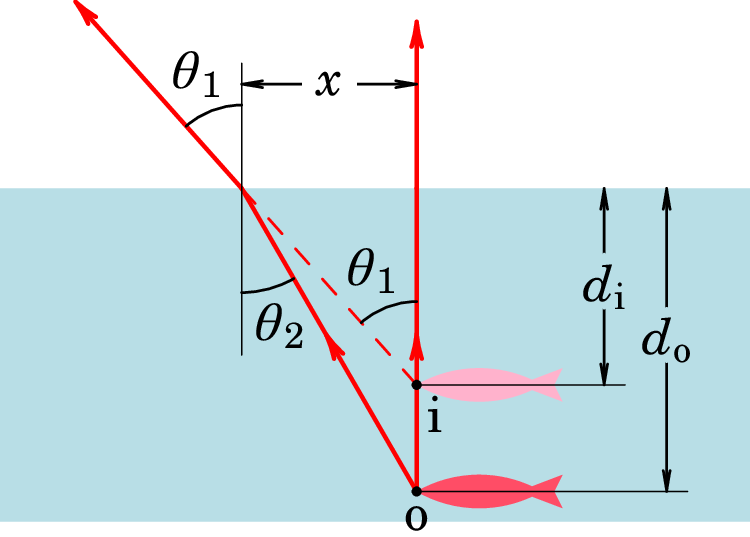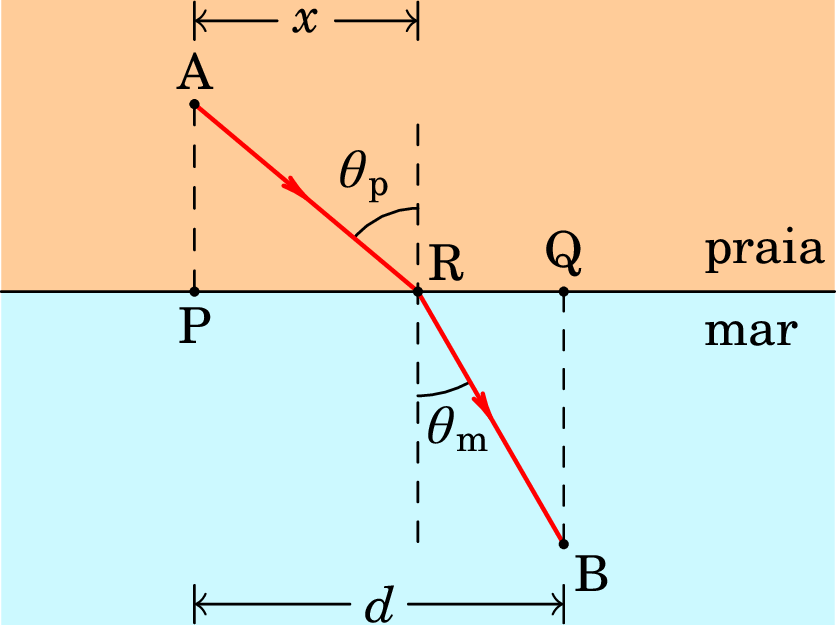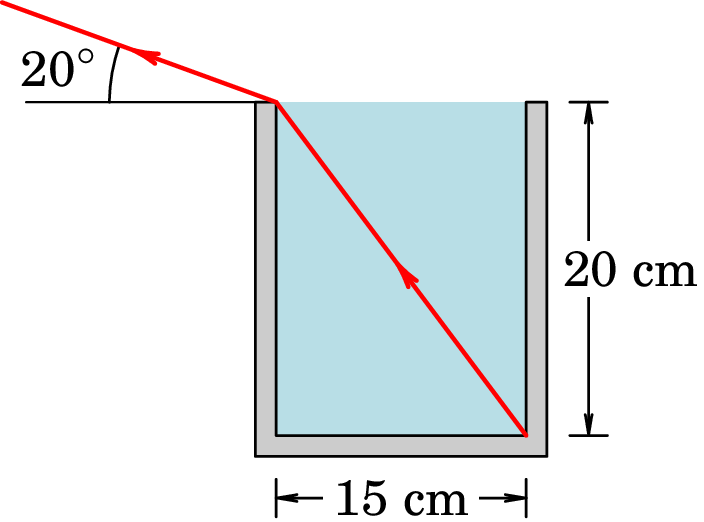1.6. Espelhos planos
Um espelho plano é uma superfície plana e lisa, que produz unicamente
reflexão especular, e não difusa. Os espelhos usados em casa costumam
estar cobertos de vidro, para proteger a superfície metálica, mas
vamos admitir espelhos sem nenhum vidro por cima. Como será
demonstrado no exercício 1.4, qualquer ponto
luminoso colocado a uma distância do espelho produz uma imagem
virtual, do outro lado do espelho, à mesma distância do
espelho, e na mesma reta perpendicular ao espelho que passa pelo ponto
luminoso.
Cada objeto produz assim uma imagem virtual no lado oposto do espelho,
sem nenhuma distorção, e com o mesmo tamanho do objeto. Uma imagem
virtual pode ser observada, mas não pode ser projetada num ecrã, como
a imagem real produzida numa câmara escura.
Exercícios resolvidos
1.1. Numa câmara escura, a parede onde se forma a imagem é vertical e
está a uma distância do orifício. (a)
Demonstre que a relação entre o tamanho de um objeto
vertical e o tamanho da sua imagem, , é igual à
relação entre a distância do objeto até o orifício, ,
e a distância desde o orifício até à imagem,
. (b) Se a distância do orifício até a imagem
for igual a 90 cm, calcule o tamanho que terá a imagem do Sol (o Sol
tem diâmetro de km e está a uma distância de
km da Terra).
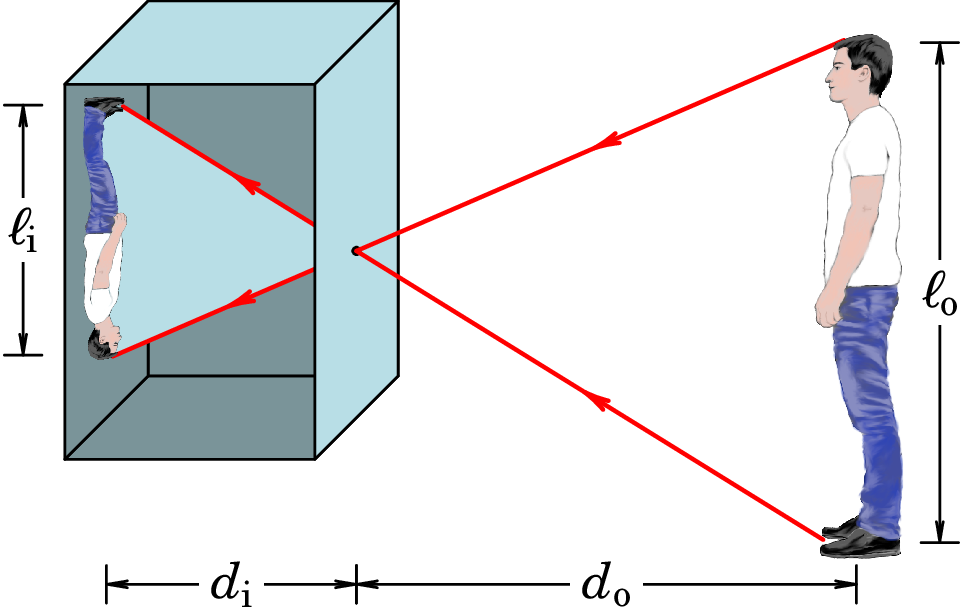
Resolução. (a) A figura acima mostra os raios que
produzem as imagens dos dois extremos do objeto. como o ângulo entre
esses raios é o mesmo nos dois lados do orifício, o triângulo
formado pelo objeto e o orifício é semelhante ao triângulo formado
pela imagem e o orifício. A semelhança de triângulos implica:
(b) Substituindo na expressão da alínea anterior a distância
até o Sol, , o tamanho do Sol, , e a
distância até a imagem, cm, obtém-se:
o resultado anterior pode ser corroborado experimentalmente, e
mostra que a luz propaga-se em linha reta até a distâncias tão
elevadas como a distância da Terra ao Sol.
1.2. Um raio de luz, no ar, entra na água com um ângulo de
incidência de 30. Sabendo que o índice de refração da água é
1.333, determine o ângulo de refração.
Resolução. Aplicando a lei de Snell, com índices de refração
, para o ar, e , para a água, temos:
e o valor do ângulo de refração é:
1.3. A figura mostra um método gráfico para determinar o ângulo de
refração de um raio de luz que passa de um meio para outro.
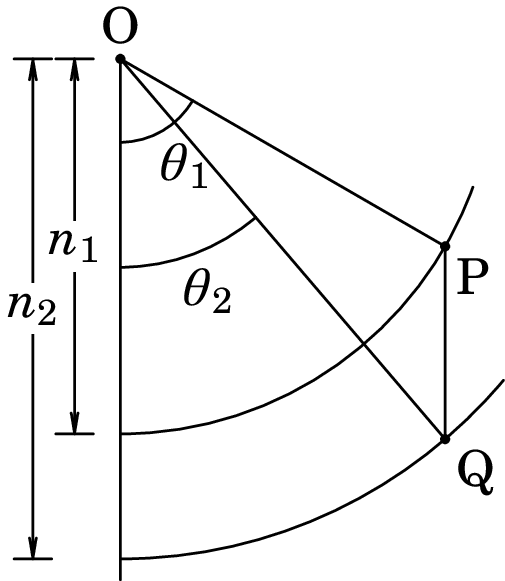
Desde um centro comum O traçam-se dois arcos de círculo com raios
proporcionais aos índices de refração e dos dois meios,
e uma reta que representa a normal à interface entre os meios. A
seguir, traça-se o segmento OP, com um ângulo igual ao
ângulo de incidência do raio no meio 1. Traça-se o segmento PQ,
paralelo à normal entre os dois meios. O ângulo que o
segmento PQ faz com a normal entre os dois meios é igual ao ângulo
de refração. Demonstre que com essa construção geométrica, os
ângulos e verificam a lei de Snell.
Resolução. A figura seguinte mostra os dois triângulos
retângulos com hipotenusas OP e OQ, iguais aos índices de refração
e dos dois meios, e um dos catetos na direção da normal
ao meio, OS.
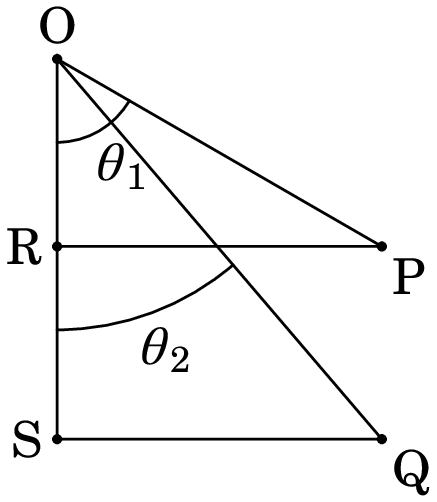
Os comprimentos dos catetos RP e SQ são,
Como RS é paralelo a PQ, então , e
igualando as duas expressões anteriores obtém-se a lei de Snell:
1.4. Demostre que qualquer ponto luminoso
próximo de um espelho plano produz uma imagem virtual, no outro lado
do espelho, e que a distância desde o ponto (objeto) até à
superfície do espelho, , é igual à distância
, desde a imagem até à superfície do espelho.
Resolução. A figura seguinte mostra dois raios de luz que
saem do ponto luminoso o, sendo refletidos no espelho, nos pontos R e
S.

Os dois raios refletidos em R e em S parecem vir do ponto comum i,
no outro lado do espelho. Os ângulos de incidência e reflexão do
raio em R são iguais, e são iguais também ao ângulo que o segmento
RI faz com a perpendicular ao espelho ( na figura). E os
ângulos de incidência e reflexão do raio em S são iguais, e são
iguais também ao ângulo que o segmento SI faz com a perpendicular ao
espelho ( na figura). Os ângulos e são ambos
iguais a e, como tal . De forma
semelhante, , porque ambos ângulos são iguais a
. A igualdade da base, RS, e dos dois ângulos nessa
base, implica que os dois triângulos, ORS e IRS, são semelhantes. As
distâncias do ponto e da sua imagem até a superfície do espelho
( e ) são as alturas desses triângulos,
que são iguais, porque os triângulos são semelhantes:
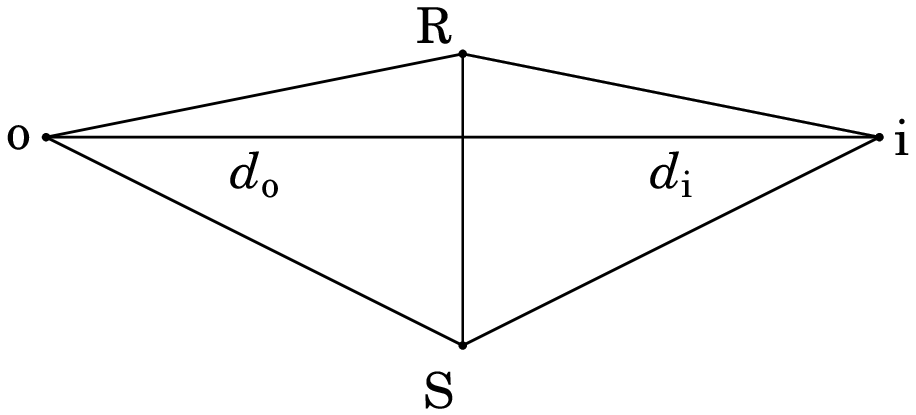
Como não assumimos nenhum ângulo especial ou ,
quaisquer outros dois raios que considerarmos formarão outros dois
triângulos semelhantes com altura (igual a
). A conclusão é que todos os raios refletidos no
espelho parecem vir dum ponto único i, imagem de o, que está à mesma
distância do espelho do que o ponto o.
1.5. Qual é a altura mínima que deverá ter um espelho vertical para
que uma pessoa consiga ver a imagem do seu corpo completo, e como
deverá ser posicionado?
Resolução. A figura seguinte mostra um homem, no lado
direito de um espelho plano e vertical, e a sua imagem no lado
esquerdo do espelho.
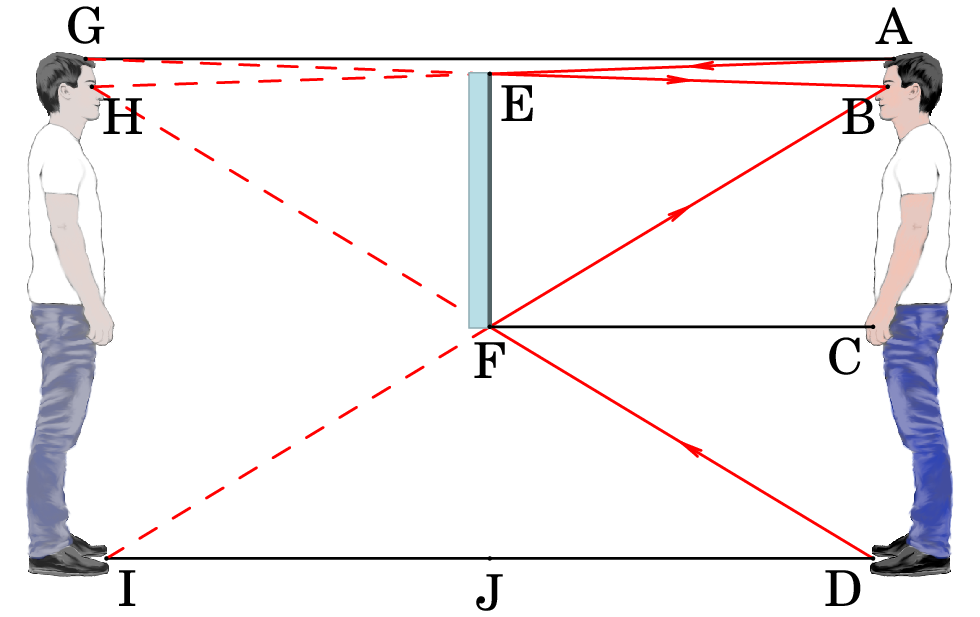
Para que o homem possa ver a sua imagem completa, deverá
poder ver os raios DFB e AEB, que partem da parte mais baixa dos
seus pés, e da parte mais alta do seu cabelo, e chegam aos seus
olhos em B. O tamanho mínimo do espelho deverá ser então a distância
entre E e F, onde esses dois raios são refletidos no espelho.
A altura do ponto F, desde o chão, é FJ, igual a CD, que é metade da
altura dos olhos B do homem: FJ=BD/2. E a altura do ponto E é EJ,
igual à altura do homem, AD, menos metade da distância AB entre os
olhos e o ponto mais alto A: EJ=AD-AB/2. O tamanho mínimo do
espelho é:
que é exatamente metade da altura do homem.
A posição onde debe ser colocado o espelho é o o seu ponto mais
baixo à altura HI, ou seja, a uma altura igual a metade da altura
dos olhos do homem.
1.6. Um peixe está nadar a 1 m por debaixo da
superfície da água. Determine a que profundidade parece estar a
nadar o peixe, quando visto por uma pessoa fora da água.
Resolução. A figura seguinte mostra dois raios luminosos
que partem de um ponto "o" no peixe: um primeiro raio vertical,
perpendicular à superfície da água, que atravessa para o ar sem ser
desviado, e um segundo raio que atinge a superfície da água a um
ângulo com a vertical, e sai para o ar formando um ângulo
com a vertical.
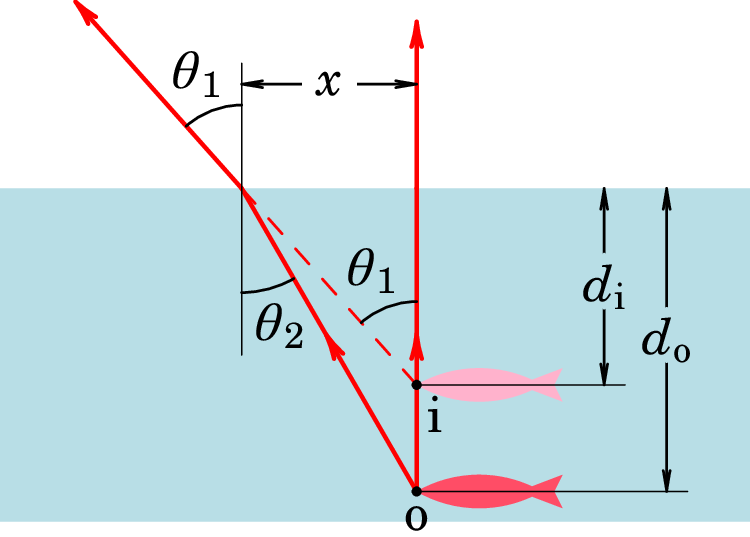
A imagem "i" do ponto "o" encontra-se na interseção entre a
prolongação do raio que sai da água com ângulo , e o raio
vertical. Os raios mais luminosos, que contribuem mais para a
formação da imagem, são os que estão mais próximos da vertical (
próximo de zero). Como tal, podemos admitir que os ângulos
e são suficientemente pequenos para podermos
aproximar o seno desses ângulos pelas sua tangentes, que podem ser
calculadas a partir das distâncias , e
na figura:
enquanto que o seno do ângulo é aproximadamente,
Substituindo esses senos na lei de Snell (1.4),
obtém-se:
onde é o índice de refração do ar, é o índice de
refração da água e m é a profundidade à que se encontra o
peixe. O valor obtido para a profundidade da imagem do peixe é:
1.7. No ponto A de uma praia encontra-se um
nadador-salvador, enquanto que num ponto B do mar encontra-se um
banhista em dificuldades (ver figura). O nadador-salvador corre na
praia a uma velocidade e nada no mar a uma velocidade
menor, . Qual a trajectória que o nadador-salvador
deve seguir, desde A, para chegar o mais rapidamente possível ao
banhista em B?
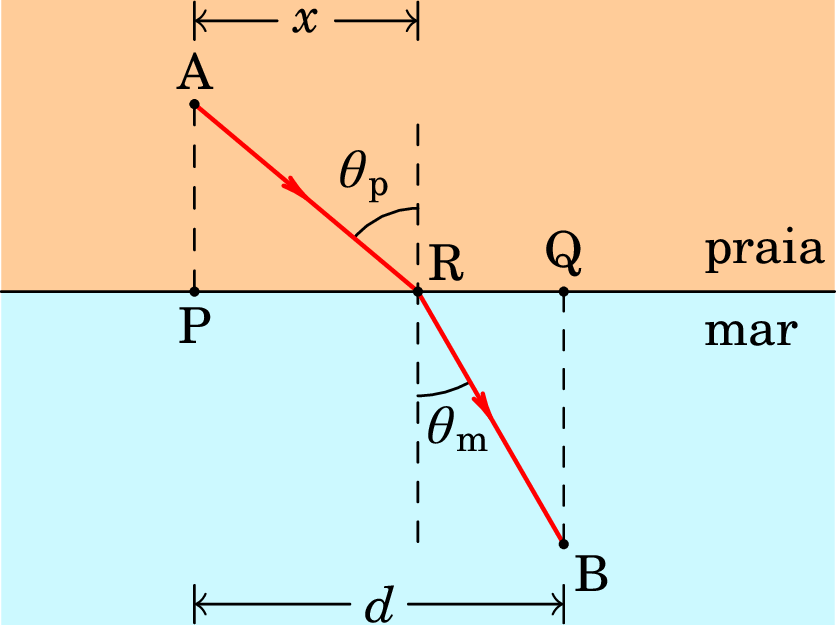
Resolução. Não há duvida que se os pontos inicial e final
estão ambos na praia ou ambos no mar, a trajetória mais rápida é um
segmento de reta. Como tal, a trajetória ótima desde A até B serão
dois segmentos de reta, um na praia e outro no mar. Mas os esses
dois segmentos, AR e BR na figura acima, não têm de ser parte dum
mesmo segmento de reta entre A e B. O ponto R encontra-se
unidades à direita de B, e o valor ótimo de é o que faz com que
o tempo desde A até B seja mínimo.
A distância que o nadador-salvador percorre na praia é a hipotenusa
do triângulo APR, igual a,
e o tempo do percurso na praia, desde A até R, é:
De forma semelhante, a distância percorrida no mar é a hipotenusa do
triângulo BQR e o tempo necessário para percorrer essa distância é:
Como as distâncias AP, BQ, e as velocidades e
têm valores fixos (não dependem da posição do ponto
R), a expressão do tempo total, em
função da variável é a seguinte:
E o valor de que faz com que seja mínimo obtém-se derivando
a expressão anterior e igualando o resultado a zero:
e como as expressões nas raízes quadradas são as hipotenusas dos
dois triângulos retângulos, obtém-se:
é igual ao seno do ângulo (ver gráfico
acima), e é o seno de ; podemos também
multiplicar os dois lados da equação por , que é a velocidade
máxima que o nadador atinge quando corre numa pista de
corridas. Como tal, o tempo será mínimo quando a relação entre os
dois ângulos for:
que é idêntica à lei de Snell para os raios de luz. Neste caso os
números e são iguais à relação
entre a velocidade máxima do nadador e a sua velocidade na areia da
praia ou na água do mar.
1.8. Determine o ângulo crítico para a luz que passa de vidro, com
índice de refração 1.56, para água, com índice de refração 1.333.
Resolução. Usando a lei de Snell, com ângulo de incidência
e ângulo de refração igual a 90,
1.9. Uma placa de vidro tem 3 cm de espessura e índice de refração de
. Determine o deslocamento lateral de um raio luminoso que
incide na superfície da placa com ângulo de incidência de
.
Resolução. Como pode ver-se na figura seguinte, o ângulo
de refração do raio quando penetra no vidro é o mesmo
ângulo com que incide no outro lado, quando sai novamente para o
ar. Como tal, o ângulo de refração do raio quando sai para o ar é o
mesmo ângulo com que entrou na placa, e os raios que
entram e saem na placa são paralelos.

O desvio lateral é a distância entre a prolongação do raio
que entra e o raio que sai da placa; é também igual ao cateto QR
no triângulo retângulo PQR. Como o ângulo no vértice P desse
triângulo é igual a , o cateto oposto é igual a:
No triângulo PQS, a hipotenusa é igual a:
E substituindo na equação anterior,
Neste caso , e substituindo o índice de refração
do ar, , e o índice de refração do vidro, , na lei
de Snell, obtém-se:
e o desvio lateral do feixe é:
Exercícios adicionais
1.10. A figura mostra dois espelhos planos e perpendiculares entre
si. Um raio de luz incide no primeiro espelho, com ângulo de
incidência , sendo refletido para o segundo espelho, com
ângulo de incidência . Demonstre que, independentemente do
valor de ângulo , o raio que sai do sistema dos dois
espelhos é sempre paralelo ao raio que entrou.

1.11. Considere uma pessoa que se encontra imersa numa piscina com
água (n = 1.333). A pessoa vê objectos num círculo de raio R = 2.0 m
por cima da sua cabeça e fora deste círculo a pessoa repara que a
cor da água é da cor das paredes da piscina. A que profundidade se
encontra a pessoa?
1.12. Um homem caminha a 1.3 m/s, aproximando-se de um espelho
plano. Com que velocidade se aproximará a sua imagem dele?
1.13. Para medir o índice de refração de um líquido, preenche-se
completamente com esse líquido um recipiente retangular de 15 cm de
lado e 20 cm de profundidade, e determina-se que o mínimo ângulo
por cima da horizontal em que é possível observar o canto inferior
do recipiente é de . Com essa informação, calcule o índice
de refração do líquido.
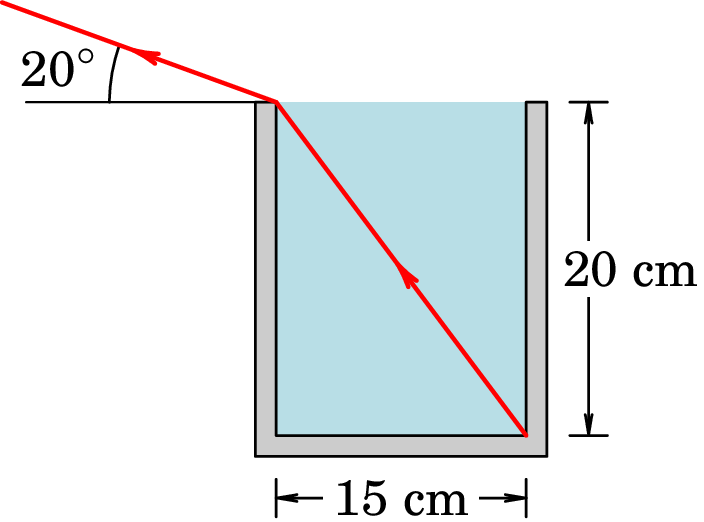
Respostas dos exercícios adicionais
1.10. Sugestão: comece por demonstrar que o ângulo é igual a
, e depois demonstre que o raio que entra e o
raio que sai fazem o mesmo ângulo com a horizontal.
1.11. m.
1.12. 2.6 m/s.
1.13. 1.566.